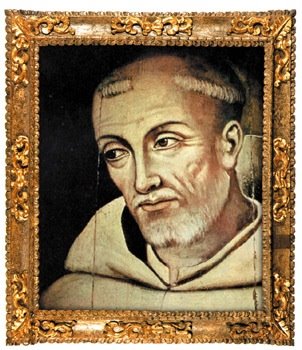Por Maria da Ascenção Ferreira Apolônia
A estabilidade no casamento, conquista que remonta às idéias cristãs da Idade Média, permitiu que pela primeira vez na história a mulher fosse vista legalmente não mais como inferior ao marido, mas como um membro essencial para a família. A instauração do casamento monogâmico trouxe benefício não só para a mulher, mas para os filhos que ganharam a proteção de um lar estável.
Em janeiro [de 2003] entrou em vigor no Brasil o novo código de Direito Civil, que busca fortalecer a participação da família: pai e mãe na responsabilidade conjunta de educar os filhos, quando a unidade garantida pelo casamento se desfez. Neste momento, em que a sociedade brasileira é convidada a refletir sobre os avanços ou retrocessos do novo código, é conveniente conhecer o longo percurso histórico trilhado por sucessivas gerações no contínuo esforço por garantir à família a estabilidade inerente à união monogâmica. Esse cume de justiça – em que mulher e filhos são considerados pessoas e, portanto, merecedores de condições que lhes assegurem as várias faces do desenvolvimento humano – foi arduamente conquistado, ao longo dos séculos, graças à progressiva implantação do casamento monogâmico, que teve ainda o mérito de instaurar a efetiva e crescente dignificação da mulher, introduzida na Idade Média.
 Mais do que nunca é oportuno lembrar à sociedade brasileira que esse legado em favor dos mais frágeis: a mulher e os filhos, teve como preço o sangue e as lágrimas das gerações que nos precederam. As conquistas do presente só podem ser avaliadas como vitórias, se não dispensarmos o discernimento que a dimensão histórica é capaz de nos oferecer. Só então estaremos aptos a identificar o que é avanço ou retrocesso, podendo, de peito aberto, festejar e saborear como vitória o que representou um autêntico benefício à sociedade. Do contrário, corremos o risco de levar gato por lebre, e comemorar ingenuamente, como êxito, a nossa própria derrota. Para alcançarmos esse sentido de justiça, é necessário surpreender, com o próprio olhar, a lenta gestação da dignidade da mulher e da família no decurso do processo histórico.
Mais do que nunca é oportuno lembrar à sociedade brasileira que esse legado em favor dos mais frágeis: a mulher e os filhos, teve como preço o sangue e as lágrimas das gerações que nos precederam. As conquistas do presente só podem ser avaliadas como vitórias, se não dispensarmos o discernimento que a dimensão histórica é capaz de nos oferecer. Só então estaremos aptos a identificar o que é avanço ou retrocesso, podendo, de peito aberto, festejar e saborear como vitória o que representou um autêntico benefício à sociedade. Do contrário, corremos o risco de levar gato por lebre, e comemorar ingenuamente, como êxito, a nossa própria derrota. Para alcançarmos esse sentido de justiça, é necessário surpreender, com o próprio olhar, a lenta gestação da dignidade da mulher e da família no decurso do processo histórico.
 Os primeiros passos da humanidade rumo a dignificação da mulher foram registrados, com maior nitidez, a partir do século IX, em grande parte, à medida que a sociedade medieval adotava a prática do casamento monogâmico, que conferiu à mulher um novo estatuto no plano das relações sociais: ela passou a ser o módulo essencial para a constituição da família 1, garantindo-lhe unidade e solidez. Jorge Borges Macedo, em artigo publicado pela revista Oceanos, estuda as causas da participação política e do crescente prestígio social que a mulher conquistou no decorrer da Idade Média. Ele aponta o casamento monogâmico como um dos fatores decisivos para a progressiva intervenção feminina na Corte e nos domínios senhoriais, a partir do século XII, em Portugal. Nas palavras do autor: “Para o mundo medieval, os casamentos reais e senhoriais são atos políticos providos de eficácia pública. Nesse aspecto, a mulher tornou-se, assim, a garantia de funcionamento dos sistema político ou social, assim como a condição básica da sua estabilidade” 2.
Os primeiros passos da humanidade rumo a dignificação da mulher foram registrados, com maior nitidez, a partir do século IX, em grande parte, à medida que a sociedade medieval adotava a prática do casamento monogâmico, que conferiu à mulher um novo estatuto no plano das relações sociais: ela passou a ser o módulo essencial para a constituição da família 1, garantindo-lhe unidade e solidez. Jorge Borges Macedo, em artigo publicado pela revista Oceanos, estuda as causas da participação política e do crescente prestígio social que a mulher conquistou no decorrer da Idade Média. Ele aponta o casamento monogâmico como um dos fatores decisivos para a progressiva intervenção feminina na Corte e nos domínios senhoriais, a partir do século XII, em Portugal. Nas palavras do autor: “Para o mundo medieval, os casamentos reais e senhoriais são atos políticos providos de eficácia pública. Nesse aspecto, a mulher tornou-se, assim, a garantia de funcionamento dos sistema político ou social, assim como a condição básica da sua estabilidade” 2.
Para melhor avaliarmos o salto de qualidade que representou a participação feminina no campo político, diligentemente preservado como o espaço por excelência do homem, basta ter em conta a condição da mulher nos séculos em que vigorou o Império Romano. Mediante o patris potestas, cabia ao pai decidir sobre a vida dos filhos que gostaria de alimentar. Tal como ocorre atualmente na China, os meninos eram preferidos em detrimento das meninas, que só gozavam de maior apreço na condição de primeira filha.
 De acordo com Régine Pernoud, entre os celtas, germânicos e nórdicos vigorava uma maior igualdade entre homem e mulher no interior da família: “O regime familiar inclinava [os cônjuges] a reconhecer o caráter indissolúvel da união entre o homem e a mulher, e, no caso dos francos, por exemplo, constata-se que o wehrgeld, o preço do sangue, é o mesmo para a mulher e para o homem, o que implica um certo sentido de igualdade” 3. Acrescenta que a concepção cristã do casamento, implantada ao longo da Idade Média, em virtude da conversão das tribos bárbaras, propiciou e fortaleceu a igualdade e a reciprocidade entre os esposos. Instaurava-se, por assim dizer, uma simetria no relacionamento entre homem e mulher: “A mulher não pode dispor de seu corpo: ele pertence ao seu marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor de seu corpo: ele pertence à sua esposa” (1 Cor 7, 4) 4. Esta concepção radical e renovadora da relação: homem mulher, em confronto com a cultura antiga e pagã de cunho machista, implicou a introdução de uma nova mentalidade e de um novo olhar relativamente à imagem e identidade femininas. E ela só se instaurou pouco a pouco, com forte e inevitável dificuldade, nas regiões que sofreram o domínio romano. Nas palavras do jurista Robert Villers: “Em Roma, a mulher, sem exagero ou paradoxo, não era sujeito de direito… Sua condição pessoal, as relações da mulher com seus pais ou com seu marido são da competência da domus da qual o pai, o sogro ou o marido são os chefes todo-poderosos… A mulher é unicamente um objeto” 5. Para o Direito Romano, a mulher era uma perpétua menor, que passava da tutela do pai à do marido. Régine Pernoud atribui ainda à reimplantação do Direito Romano, em vários países da Europa, no século XVI, a responsabilidade pelo retrocesso da atuação feminina no âmbito familiar, social e político. A mulher que vinha conquistando espaço, do século X ao XIII, no âmbito familiar, na sociedade e na arte, sofre um eclipse no período subseqüente, resgatando o prestígio que conquistara na sociedade medieval somente no século XX 6.
De acordo com Régine Pernoud, entre os celtas, germânicos e nórdicos vigorava uma maior igualdade entre homem e mulher no interior da família: “O regime familiar inclinava [os cônjuges] a reconhecer o caráter indissolúvel da união entre o homem e a mulher, e, no caso dos francos, por exemplo, constata-se que o wehrgeld, o preço do sangue, é o mesmo para a mulher e para o homem, o que implica um certo sentido de igualdade” 3. Acrescenta que a concepção cristã do casamento, implantada ao longo da Idade Média, em virtude da conversão das tribos bárbaras, propiciou e fortaleceu a igualdade e a reciprocidade entre os esposos. Instaurava-se, por assim dizer, uma simetria no relacionamento entre homem e mulher: “A mulher não pode dispor de seu corpo: ele pertence ao seu marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor de seu corpo: ele pertence à sua esposa” (1 Cor 7, 4) 4. Esta concepção radical e renovadora da relação: homem mulher, em confronto com a cultura antiga e pagã de cunho machista, implicou a introdução de uma nova mentalidade e de um novo olhar relativamente à imagem e identidade femininas. E ela só se instaurou pouco a pouco, com forte e inevitável dificuldade, nas regiões que sofreram o domínio romano. Nas palavras do jurista Robert Villers: “Em Roma, a mulher, sem exagero ou paradoxo, não era sujeito de direito… Sua condição pessoal, as relações da mulher com seus pais ou com seu marido são da competência da domus da qual o pai, o sogro ou o marido são os chefes todo-poderosos… A mulher é unicamente um objeto” 5. Para o Direito Romano, a mulher era uma perpétua menor, que passava da tutela do pai à do marido. Régine Pernoud atribui ainda à reimplantação do Direito Romano, em vários países da Europa, no século XVI, a responsabilidade pelo retrocesso da atuação feminina no âmbito familiar, social e político. A mulher que vinha conquistando espaço, do século X ao XIII, no âmbito familiar, na sociedade e na arte, sofre um eclipse no período subseqüente, resgatando o prestígio que conquistara na sociedade medieval somente no século XX 6.
 Os benefícios do casamento monogâmico não se restringiram à possibilidade de o espaço social e político contar com a intervenção feminina. A mudança mais significativa relativamente à dignidade da mulher deu-se no plano da relação: feminino masculino. Em que condições de segurança viviam as mulheres nas tribos bárbaras, ainda não cristianizadas? Relata Georges Duby que nos primeiros séculos da Idade Média e, em algumas regiões, mesmo nos séculos XI e XII, as mulheres estavam expostas a contínuos riscos quanto à integridade física e emocional 7. Tal como retratam alguns filmes atuais: Coração Valente ou Joana d’Arc, as donzelas eram freqüentemente violentadas. Duby menciona o fato de que bandos de jovens rebeldes eram estimulados a se “divertir” longe das fronteiras da região natal. Por isso invadiam condados vizinhos com o intuito de violentar coletivamente suas mulheres e donzelas. Foram necessários séculos para evoluir da barbárie à civilização no que concerne à relação entre homem e mulher.
Os benefícios do casamento monogâmico não se restringiram à possibilidade de o espaço social e político contar com a intervenção feminina. A mudança mais significativa relativamente à dignidade da mulher deu-se no plano da relação: feminino masculino. Em que condições de segurança viviam as mulheres nas tribos bárbaras, ainda não cristianizadas? Relata Georges Duby que nos primeiros séculos da Idade Média e, em algumas regiões, mesmo nos séculos XI e XII, as mulheres estavam expostas a contínuos riscos quanto à integridade física e emocional 7. Tal como retratam alguns filmes atuais: Coração Valente ou Joana d’Arc, as donzelas eram freqüentemente violentadas. Duby menciona o fato de que bandos de jovens rebeldes eram estimulados a se “divertir” longe das fronteiras da região natal. Por isso invadiam condados vizinhos com o intuito de violentar coletivamente suas mulheres e donzelas. Foram necessários séculos para evoluir da barbárie à civilização no que concerne à relação entre homem e mulher.
Porém, o avanço representado pela união monogâmica, como lembra o historiador português Jorge Macedo, atingiria níveis muito mais altos no relacionamento entre homem e mulher. O casamento no mundo ocidental e cristão pressupunha uma troca de informações sobre o outro, base da relação de pessoa a pessoa, que se instaurava no âmbito familiar, à medida que a mulher deixava de ser um mero objeto de fecundação substituível e descartável, para ser uma presença permanente, capaz de contribuir para a unidade e humanização da família. E a arte passaria, ao longo da Idade Média, a exercer um papel social de relevo, ao propiciar o conhecimento da alteridade, na revelação desse mundo interior do outro, cuja contemplação está, muitas vezes, velada nas relações quotidianas, mas que a poesia, o romance, a pintura ou a crônica põem diante dos olhos do leitor, instigando-o a levar em conta as nuanças de sensibilidade, de comportamento ou de valores inerentes ao outro.
 Como conseqüência da relação pessoal, necessária à prática do casamento monogâmico, fez-se mais claro tanto no quotidiano do ambiente familiar, quanto no universo político e social, que a relação de pessoa a pessoa não podia ser somente um ato voluntário ou de razão 8, mas impregnado de afetividade. Ora, as decisões que se enriqueciam com o ingrediente afetivo, ganhavam em qualidade na constante renovação da responsabilidade que igualmente implicavam. Afirma Borges que o estudo e a análise das relações de afeto no casamento monogâmico, tornou-se “(…) uma característica essencial de todas as sociedades europeias: o universo afetivo de escolha e a consciência íntima que a ela preside tornaram-se, em pouco tempo, essenciais ao quotidiano, assim como o cerne da focagem literária e artística do ideal da convivência e um campo necessário de expressão moral e antropológica” 9.
Como conseqüência da relação pessoal, necessária à prática do casamento monogâmico, fez-se mais claro tanto no quotidiano do ambiente familiar, quanto no universo político e social, que a relação de pessoa a pessoa não podia ser somente um ato voluntário ou de razão 8, mas impregnado de afetividade. Ora, as decisões que se enriqueciam com o ingrediente afetivo, ganhavam em qualidade na constante renovação da responsabilidade que igualmente implicavam. Afirma Borges que o estudo e a análise das relações de afeto no casamento monogâmico, tornou-se “(…) uma característica essencial de todas as sociedades europeias: o universo afetivo de escolha e a consciência íntima que a ela preside tornaram-se, em pouco tempo, essenciais ao quotidiano, assim como o cerne da focagem literária e artística do ideal da convivência e um campo necessário de expressão moral e antropológica” 9.
 Em síntese, no casamento monogâmico está pressuposto um conceito muito alto do ser humano, que não merece menos do que a fidelidade recíproca entre homem e mulher. O mesmo se dá em relação aos filhos, que não merecem menos do que a presença acolhedora, afetiva e exigente dos pais, cujos esforços convergem para a humanização da família e, de modo especial, dos filhos. Nada substitui o cume em humanidade representado pela união monogâmica, incluído o novo código civil, no esforço por minimizar a perda imposta às vítimas de um casamento que se desfez ou que não houve. Mas, nesse momento, em pleno século XXI, impõe-se a pergunta: não seria um retrocesso apontar os benefícios do casamento monogâmico, quando a mídia e alguns segmentos da sociedade aplaudem o namoro e o casamento descartáveis? Não. Em hipótese alguma. O casamento ou o namoro à dinamarquesa, inerentes à barbárie, é que constituem um retrocesso relativamente à união monogâmica, e só se instauram – tal como assinala o percurso histórico –, mediante o rebaixamento do cônjuge à condição de ser descartável, diminuído por um amor (seria amor?) tão desumano quanto a maionese ou a margarina: com prazo de validade vencido. Em suma, a poligamia, oficiosa ou garantida por lei, reduz homem e mulher à categoria de ingênua marionete no jogo machista ou feminista do prazer a qualquer preço. E, neste caso, o preço é alto, muito alto: a angústia de se sentir usado, a dor e o sabor amargos de quem negou a si mesmo o direito de amar e ser amado como pessoa, e consentiu em desprezar-se, vivendo dos despojos de sua própria humanidade.
Em síntese, no casamento monogâmico está pressuposto um conceito muito alto do ser humano, que não merece menos do que a fidelidade recíproca entre homem e mulher. O mesmo se dá em relação aos filhos, que não merecem menos do que a presença acolhedora, afetiva e exigente dos pais, cujos esforços convergem para a humanização da família e, de modo especial, dos filhos. Nada substitui o cume em humanidade representado pela união monogâmica, incluído o novo código civil, no esforço por minimizar a perda imposta às vítimas de um casamento que se desfez ou que não houve. Mas, nesse momento, em pleno século XXI, impõe-se a pergunta: não seria um retrocesso apontar os benefícios do casamento monogâmico, quando a mídia e alguns segmentos da sociedade aplaudem o namoro e o casamento descartáveis? Não. Em hipótese alguma. O casamento ou o namoro à dinamarquesa, inerentes à barbárie, é que constituem um retrocesso relativamente à união monogâmica, e só se instauram – tal como assinala o percurso histórico –, mediante o rebaixamento do cônjuge à condição de ser descartável, diminuído por um amor (seria amor?) tão desumano quanto a maionese ou a margarina: com prazo de validade vencido. Em suma, a poligamia, oficiosa ou garantida por lei, reduz homem e mulher à categoria de ingênua marionete no jogo machista ou feminista do prazer a qualquer preço. E, neste caso, o preço é alto, muito alto: a angústia de se sentir usado, a dor e o sabor amargos de quem negou a si mesmo o direito de amar e ser amado como pessoa, e consentiu em desprezar-se, vivendo dos despojos de sua própria humanidade.
NOTAS:
(1) Cf. Jorge Borges Macedo, “Mulheres e Política no século XV português”. In: Oceanos: Mulheres no mar salgado, n.21, jan-mar 1995, pág.19.